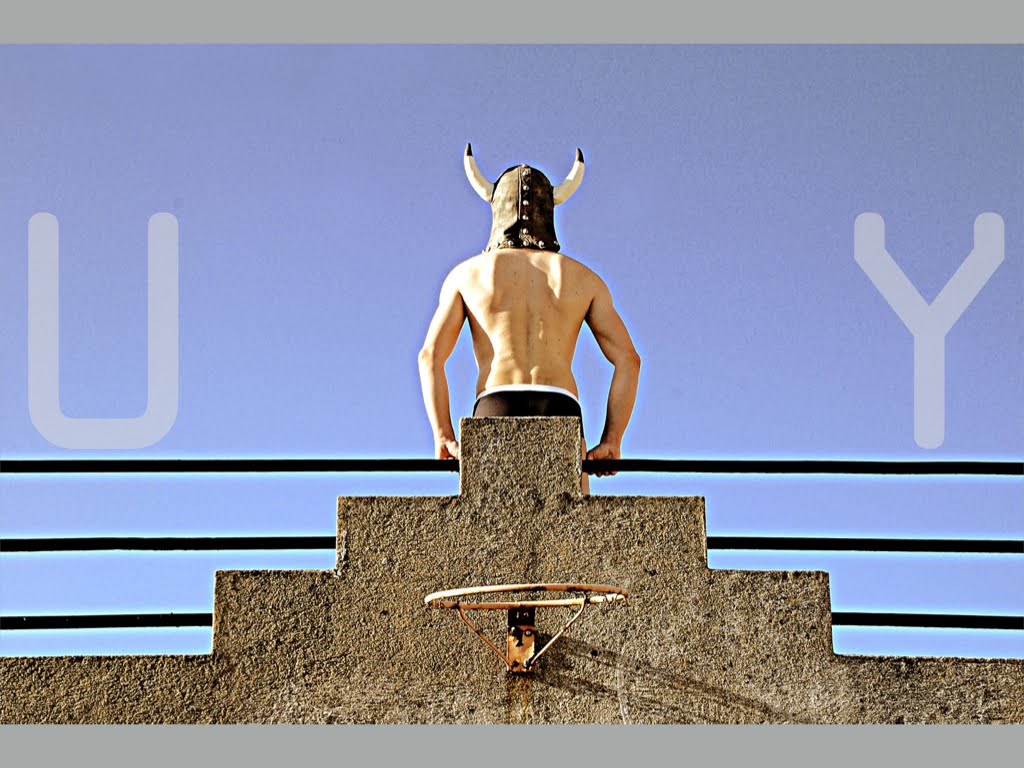O FIM DA OBRA SINGULAR
OU O FIM DA OBRA ENQUANTO SINGULARIDADE
OU O FIM DA OBRA ENQUANTO SINGULARIDADE
É necessário impedir que as consequências sejam menosprezadas. Pequenos achados como este — o da reprodutibilidade — podem ser suficientes para subverter em profundidade todas as economias do imaginário. E arrastadas por estas, uma vez modificadas as ordens simbólicas, também o serão as economias do próprio real na sua totalidade. Mas para tal é necessário refrear o trabalho de neutralização, de desactivação sistemática, levado a cabo pelas inércias da instituição ou do mercado. É necessário impedir que actuem com eficácia os mecanismos por estas congeminados para que, por mais que tudo mude, tudo permaneça igual. É necessário afirmar com a maior das contundências o fim da obra como singularidade, daí extraindo e exigindo que sejam extraídas todas as consequências. Deve recusar-se qualquer tipo de conivência: qualquer condescendência — incluindo, em particular, a do "controlo de tiragem" — é cúmplice; é nela que as estruturas inerciais do sistema se apoiam.
Não há uma única obra singular que pertença por direito próprio a este tempo. Ou habita um tempo emprestado e fala então ao ouvido de outras épocas — nada diz à nossa que esclareça e traga à luz a problematicidade das suas próprias condições de representação —, ou abandona-se à formidável vertigem da sua existência incontida, numa cascata de multiplicações de que o infinito número dos seus avatares denuncia a equivalência radical, ontológica, entre produção e reprodução, entre origem e eco distribuído. Para o nosso tempo, a existência particularizada das coisas, dos objectos do mundo, é uma quimera esbatida, um pesadelo suspenso. Como para os grãos de areia de uma praia ou para as agulhas dum pinheiro, qualquer nomeação que não seja mera enumeração molar pertence à ordem do delírio esquizóide. Não há nomes no mundo que consigam sujeitar (pois que se trata da mesma operação que procura subjectificar os objectos para que estes expressem a veracidade da existência particular daqueles que os afrontam, daqueles que os designam) a imparável multiplicidade niveladora daquilo que existe, daquilo que habita o mundo nas tortuosidades imprevisíveis de milhares de milhões de séries infinitamente descentradas, abertas e entrecruzadas numa trama febril e inabarcável.
É desta grande revolução metafísica epocal, que nomeia o desaparecimento do ser do mundo enquanto algo inscrito nas presunções contidas dos seus particulares, que deve falar a obra do nosso tempo. Que para fazê-lo tenha de testemunhar — e não ocultar — a sua própria impossível singularidade, eis a sua força. O tempo em que as artes tinham por missão dar conta do imaginário dum mundo dos seres particulares é o tempo de um projecto finado, um tempo morto. E felizmente morto — por ser fraudulento, por negar o ser no seu desvendamento infinitésimo e inumerável, como epifania radical da diferença.
Temos contudo de precaver-nos dos mortos, pois há zombies que caminham entre nós, murmurando ainda sobre "os mortos que haveis matado" ao mesmo tempo que, inexistindo, conservam todo o controlo dos aparelhos do estado, do poder (que é a forma pela qual se apresenta aquilo que não vive). A ordem dos singulares que estes defendem — e na qual são, se é que tal atributo pode ser para eles e em alguma medida real — assenta nessas truculências seculares, milenares. Devido ao seu poder, o reino deste mundo pertence-lhes. A autêntica revolução pendente passaria então por escorraçá-los dele — ou, mais precisamente, por devolvê-los a esse outro reino a que por direito pertencem: o das mais obscuras sombras, o do phantasma enquanto cenário — ou estrutura da consciência desditosa — constituído no território das restituições falsificadoras da falta.
[in “A obra de arte e o fim da era do singular”, José Luís Brea, Revista de Comunicação e Linguagens, n.º 37, 2006/2007, Relógio d’Água Editores, 2007, pp. 112-113]